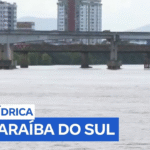Imagine que você é uma rocha. Qualquer rocha. Pode ser um rochedo à beira do Rio Amazonas, um seixo no Deserto do Saara, ou uma pedra nas encostas de uma montanha do Himalaia. Volte à memória profunda daquela rocha, formada ao longo de milhões ou bilhões de anos, empurrada pra lá e pra cá por inundações, terremotos, vulcões e deslizamentos de terra, e depois deixada imóvel num lugar – talvez no subsolo ou no fundo do oceano – durante décadas, séculos ou milênios. Coloque tudo isso – a história da Terra – em sua mente e depois se faça esta única pergunta: qual é a importância da espécie humana?
A questão é central num acirrado debate global que entrou na esfera pública na semana passada, quando um painel de historiadores do planeta, também conhecidos como geólogos, se recusou a aceitar que a Terra entrara numa nova época geológica dominada pelo humano, chamada Antropoceno. Da perspectiva da Floresta Amazônica, esse exemplo de centrismo humano é absurdo e mortal.
É cômico porque, como qualquer rocha poderia contar, o Homo sapiens é um recém-chegado ao nosso planeta natal de 4,5 bilhões de anos. Se você condensasse toda a história da Terra em um único ano, as rochas mais antigas descobertas na superfície de nosso planeta datariam de meados de março. Formas de vida muito primitivas surgiriam no final de novembro. Os dinossauros se tornariam dominantes em meados de dezembro (o período Triássico) e desapareceriam no dia seguinte ao Natal. A Floresta Amazônica começaria a se formar no dia seguinte, 27 de dezembro. Os primeiros ancestrais humanos só apareceriam na noite de 31 de dezembro. Os nossos avós não nasceriam até o último segundo da véspera de Ano Novo. Tudo isso quer dizer que, na história épica do mundo, uma vida humana é menos do que um soluço, um arroto ou um pum. Como podemos ser tão autocentrados a ponto de dar o nosso nome a um período geológico inteiro? A própria ideia é suficiente para fazer uma pedra rolar de rir.
E, no entanto, há uma razão séria pela qual Paul Creutzen, vencedor do Nobel de Química de 1995, sugeriu o conceito há pouco mais de duas décadas. Creutzen avaliou que, desde a Revolução Industrial, causamos tantos danos ao nosso planeta-casa que os impactos durarão milhares de anos. Como resultado, disse o cientista, o mundo está deixando a época estável do Holoceno e entrando no Antropoceno (a época dos humanos).
Não faltam provas. Desde 1850, a queima de combustíveis fósseis como petróleo, gás e carvão pelos humanos tem liberado mais dióxido de carbono no ar do que em qualquer momento dos últimos 400 mil anos. Com isso, as temperaturas globais atingiram níveis jamais vistos em 120 mil anos, o que está mudando a forma como a Terra é vista do espaço. Quanto às tendências atuais, até 2050 – ou mesmo antes – poderá não existir gelo durante o verão no Ártico pela primeira vez em pelo menos 5 mil anos.

REFINARIA DE PETRÓLEO E BOMBA ATÔMICA (HIROSHIMA, 1945): COMBUSTÍVEIS FÓSSEIS E CENTRAIS NUCLEARES GERAM RESÍDUOS QUE DURAM CENTENAS OU MILHARES DE ANOS. FOTOS: YAMIL LAGE E ROGER VIOLLET/AFP
A mudança se acelerou mais a partir da década de 1950, razão pela qual alguns cientistas dizem que deveria ser considerada o início do Antropoceno. Naquela década, os Estados Unidos e a União Soviética começaram a testar bombas termonucleares de hidrogênio, que deixaram radioisótopos como plutônio e estrôncio em solos, sedimentos e árvores em todo o planeta, bem como nos dentes das crianças em áreas afetadas. Todos os dias, desde então, as centrais nucleares do mundo – que hoje já são 413 – produzem resíduos radioativos que demoram dezenas de milhares de anos para atingir um nível seguro. Em alguns casos, a degradação pode levar 1 milhão de anos – um período de tempo verdadeiramente geológico.
Desde os anos 1950, as fábricas construídas pelos humanos também produziram mais de 8 bilhões de toneladas de plástico, que nunca se decompõe totalmente – ele apenas se deforma ao longo de décadas em partículas cada vez menores, que são agora encontradas em toda parte, do ponto mais profundo do mundo (a Fossa das Marianas) até o mais alto, o Himalaia, bem como nas placentas – que nutrem os bebês ainda no ventre das mães – e nos corpos das baleias. Há também milhares de tipos de PFAS (sigla para as substâncias perfluoroalquil e polifluoroalquil) que são conhecidos como “produtos químicos eternos”, porque são quase indestrutíveis. São compostos semelhantes ao teflon, que repelem a água e a gordura e são usados em panelas e outros utensílios de cozinha, roupas, embalagens, telefones celulares – e, ultimamente, também encontrados em vias navegáveis, nos campos agrícolas e nos corpos humanos. Eles não se quebram durante milhares de anos e podem tornar-se tóxicos à medida que se acumulam.
E, por fim, claro, há as mudanças na biologia do planeta, da qual os geólogos ignoram o perigo. A Ciência do Sistema Terrestre – também conhecida como Teoria ou Hipótese de Gaia – nos ensina que a vida, a terra e a atmosfera estão interligadas e são interdependentes. Sem essas relações vitais, a Terra seria apenas mais uma rocha gigante sem vida girando em torno do Sol. Mas esse equilíbrio tem mudado. Desde 1750, a população humana aumentou dez vezes. Enquanto isso, apenas nos últimos 50 anos, as populações de animais selvagens diminuíram cerca de 70%.
O resultado será uma mudança drástica no registro fóssil da Terra. O peso dos animais domésticos terrestres, como galinhas, vacas, ovelhas, cabras e porcos, é hoje 30 vezes maior do que o dos mamíferos selvagens. Os futuros arqueólogos olharão para esses restos – e para a destruição persistente da Amazônia e de outros biomas – e concluirão que, no final do século 20, o mundo foi transformado numa fazenda gigante. Some-se ainda o fato de que a mineração também está revirando o solo mais do que nunca, mudando a paisagem e os estratos geológicos subterrâneos.

A POPULAÇÃO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS, COMO AVES E BOIS, SÓ CRESCE: O PLANETA VIROU UMA FAZENDA GIGANTE. FOTOS: SÉBASTIEN SALOM-GOMIS/AFP E LELA BELTRÃO/SUMAÚMA
O debate não terminou, apesar de a Subcomissão da Estratigrafia do Quaternário (um painel que faz a medição do tempo de um evento ou série de eventos e elabora recomendações ao Congresso Geológico Internacional) ter votado no mês passado contra a adoção do Antropoceno como uma nova época, registrando duas divergências principais. A primeira tratou do ponto de partida proposto como a década de 1950, indicando que as causas dos impactos da humanidade estão ligadas às armas nucleares, em vez dos combustíveis fósseis, que começaram no século 18, ou à desocupação de terras para a agricultura, que se iniciou muitos séculos antes. A segunda divergência questionou se a duração era suficientemente longa para se qualificar como uma época geológica, ou poderia ser mais bem descrita como um “evento”. Após 15 anos de discussão, a derrota foi acachapante: 12 contra, quatro a favor, duas abstenções e três ausências. Os proponentes queixaram-se de golpes baixos e prometeram apelar, mas acredita-se que os geólogos não aceitarão a proposição de uma nova época em breve.
O que isso significa para a Floresta Amazônica e outros grandes centros de vida mais-que-humana?
Em nível político, parece um presente para aqueles que querem negar que os seres humanos têm impacto prejudicial na natureza. Eles tentarão afirmar que os geólogos estão do seu lado, mas isso não é verdade. Nenhum cientista sério duvida do enorme impacto desestabilizador da indústria, do desmatamento e da monocultura. Na verdade, pode-se argumentar que designar o Antropoceno como um evento em vez de uma “época” torna-o mais alarmante. Os eventos geológicos são fenômenos temporários que alteram o sistema da Terra, como uma série de erupções vulcânicas ou o Grande Evento de Oxigenação (GEO), possível causa da aniquilação de grande parte da vida na Terra há 2,4 bilhões de anos.
Enquanto os geólogos debatem a mudança sísmica a um ritmo glacial, em SUMAÚMA não precisamos de um painel de peritos distantes para nos dizer que a Floresta Tropical e o seu povo estão sob ameaça da humanidade industrializada. Os povos indígenas têm dito isso há muitas décadas.
Nesta edição, as repórteres Helena Palmquist e Catarina Barbosa investigam as acusações de que a mineradora norueguesa Norsk Hydro e a francesa Imerys produziram graves acidentes ambientais na cidade de Barcarena, na Amazônia paraense, com consequências terríveis para os seus moradores. Esta reportagem contundente é a segunda produção da série Insustentáveis, uma parceria de SUMAÚMA com o Transnational Law Institute, do King’s College de Londres. O colunista Sidarta Ribeiro argumenta que essa exploração destrutiva continuará na América Latina até que a região se liberte da máquina da morte do capitalismo europeu e, no lugar disso, abrace suas raízes afro-indígenas que celebram a vida.
O escritor catalão Gabi Martínez critica os intelectuais por desistir da natureza e incita-os a defender a literatura mais-que-humana. Em meio a uma onda de violência no Equador, Carlos Cedeño e Verónica Intriago explicam como as gangues de traficantes de drogas ampliaram suas atividades para abranger a mineração ilegal de ouro que está destruindo a Floresta Tropical. Da base de SUMAÚMA, em Altamira, temos duas reportagens fantásticas do nosso programa de coformação Micélio: uma história em quadrinhos da jornalista Beiradeira Sara Lima sobre os peixes brutalmente afetados pela barragem de Belo Monte, e uma denúncia incisiva do Beiradeiro Joelmir Silva sobre a negligência do governo com sua comunidade ribeirinha de Maribel.
SUMAÚMA continuará olhando para os impactos antropogênicos a partir de uma perspectiva mais-que-humana. Que abraça não apenas fósseis e rochas, mas toda a vida.
Texto: Jonathan Watts
Checagem: Plínio Lopes
Revisão ortográfica (português): Célia Arruda
Tradução para o português: Denise Bobadilha
Tradução para o espanhol: Meritxell Almarza
Editora de fotografia: Lela Beltrão
Fluxo de edição, montagem e finalização: Viviane Zandonadi
Editora-chefa: Talita Bedinelli
Diretora de redação: Eliane Brum